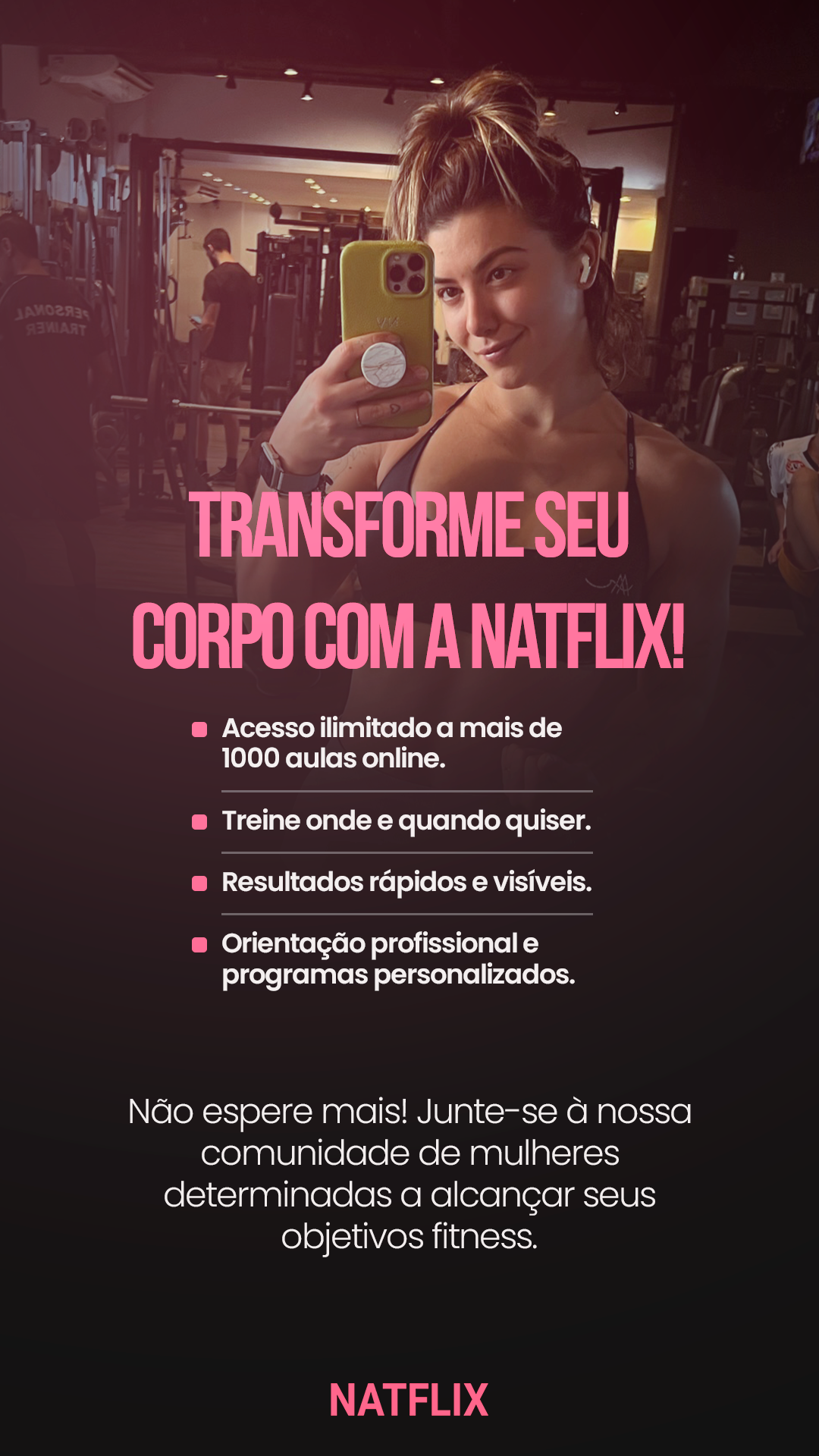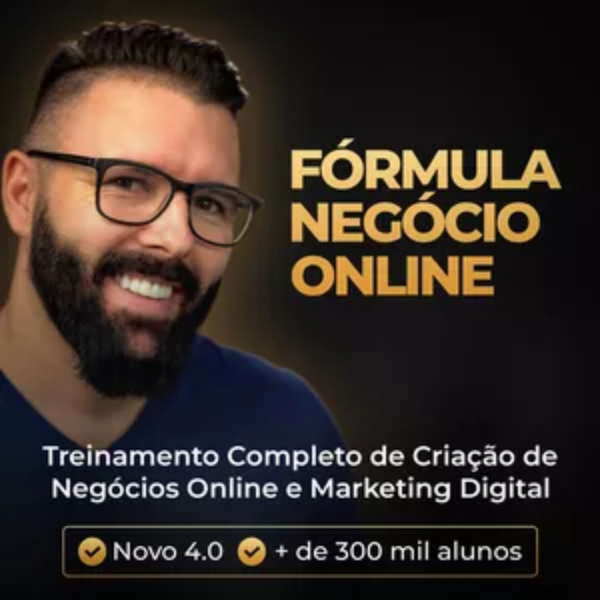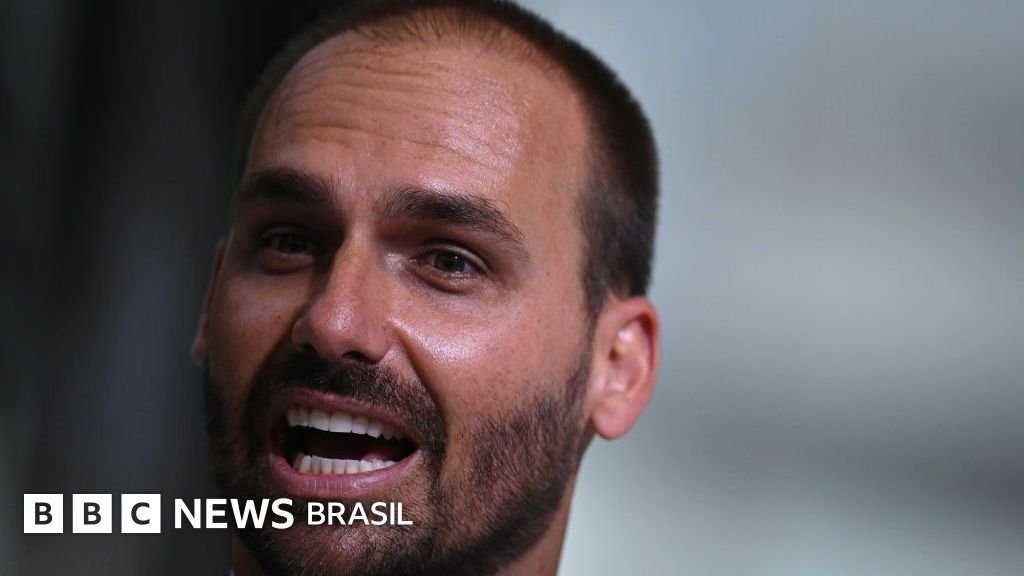📚 Continue Lendo
Mais artigos do nosso blog
A discussão sobre a relevância da ONU intensifica-se enquanto a Organização das Nações Unidas completa 80 anos. Nesta terça-feira, 23 de setembro, com o início dos debates da sua Assembleia Geral anual, o questionamento sobre a real influência da entidade no complexo panorama geopolítico mundial volta à tona, em meio a desafios sem precedentes. Fundada em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU surgiu com a missão primordial de instituir um palco contínuo para o diálogo entre nações, visando prevenir a eclosão de novos confrontos globais. O objetivo central era fornecer voz a todos os países soberanos e edificar mecanismos de preservação da paz de forma coletiva.
Ao longo de oito décadas de existência, a instituição marcou significativamente a história, desde seu papel nos processos de descolonização na África e na Ásia até a condenação explícita do apartheid. Suas contribuições também se manifestaram na formulação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e em inúmeras missões de paz que auxiliaram na conclusão de disputas e na recuperação de territórios devastados por guerras. Contudo, em face das tensões e combates que assolam diversas regiões do mundo atualmente, além de crescentes crises humanitárias e as acentuadas rivalidades entre as grandes potências, a dúvida persiste: ainda seria a ONU capaz de sustentar essa função central ou se transformou em um órgão mais figurativo do que realmente eficaz?
80 Anos da ONU: Relevância Global em Xeque em Meio a Conflitos
Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil convergem na análise de que um planeta sem a atuação da Organização das Nações Unidas seria notadamente mais instável. Este impacto se estenderia para além dos embates militares, afetando esferas cruciais como o abastecimento alimentar, a saúde pública e a educação. Paralelamente, existe um consenso evidente de que a entidade necessita de profundas reformas para se adequar às exigências do presente e que seu raio de ação, por sua própria concepção, é condicionado pela soberania dos países que a integram.
Um dos pontos de crítica mais frequentes reside na aparente limitação da ONU em endereçar as crises internacionais contemporâneas, especialmente diante do recrudescimento de conflitos em diversas localidades. Situações como o conflito na Ucrânia, as ações militares de Israel em Gaza e as persistentes tensões em nações africanas como Sudão e Somália são frequentemente citadas. Adicionalmente, o cenário internacional é complicado pela persistência de ameaças como o renascimento do Estado Islâmico e o fortalecimento de correntes políticas de extrema direita, que amplificam a pressão sobre a capacidade de resposta da organização.
Paulo Velasco, docente de política internacional na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), esclarece que a trajetória octogenária da ONU revela que tais obstáculos não representam uma novidade. Ele lembra que, por aproximadamente 40 anos, durante o período da Guerra Fria, a organização demonstrou uma relevância diminuta em pautas críticas devido à dinâmica bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, frequentemente mantendo-se distante de conflitos de grande envergadura, a exemplo da Guerra do Vietnã. Com o fim da Guerra Fria, alimentou-se a expectativa de um protagonismo maior da ONU, e a década de 1990 foi palco de importantes encontros internacionais para coordenar esforços em áreas como meio ambiente, com a Rio-92, e direitos humanos, como a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos em Viena, em 1993.
Contudo, a capacidade atual da ONU em mitigar e solucionar conflitos é vista como bastante reduzida. Para Rafaela Sanches, doutora em Relações Internacionais pela PUC-Minas e professora do Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH), essa limitação é diretamente vinculada à própria constituição da organização, notadamente o seu Conselho de Segurança. Atualmente, os cinco membros permanentes — Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido — dispõem do direito de veto, mecanismo que dificulta significativamente a aprovação de resoluções. “Essa prerrogativa impede que qualquer resolução que se contraponha aos interesses nacionais dessas potências seja implementada. No contexto ucraniano, por exemplo, a Rússia bloqueia decisões que a atingiriam diretamente. No embate Israel-Palestina, os Estados Unidos já exerceram o veto mais de 30 vezes em discussões sobre a proteção de civis em Gaza e outras violações de direitos”, pontua Sanches.
Matias Spektor, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV), reforça a percepção de que essa limitação não é algo recente. “As Nações Unidas mantêm sua relevância tanto hoje quanto no passado, mas não é razoável esperar que cumpram papéis que legalmente estão impedidas de executar: subjugar as grandes potências que exercem controle sobre elas”, argumenta. Spektor distingue dois tipos de crises, observando que a capacidade de influência da organização varia conforme a geografia. “Em cenários onde não há um envolvimento direto das potências com assento no Conselho de Segurança, a ONU, via de regra, assume uma função central de intermediação, especialmente em países da África, Ásia e, em décadas passadas, na América Latina. Por outro lado, quando o embate envolve um desses cinco membros permanentes, a ONU se vê de ‘mãos atadas’”, explica.
Um exemplo elucidativo oferecido por Spektor é a Guerra das Malvinas, ocorrida nos anos 1980. Por ser um conflito diretamente relacionado ao Reino Unido, membro permanente do Conselho de Segurança, a ONU demonstrou incapacidade tanto para mediar a disputa quanto para aplicar sanções eficazes. Essa situação, para o professor, traça um paralelo com as atuais crises em Gaza e na Ucrânia. Ainda assim, Spektor ressalta que o sistema das Nações Unidas garante transparência e constrói o arcabouço jurídico necessário para, por exemplo, o desencadeamento de ações legais contra indivíduos por crimes de guerra ou genocídio, além de ser a principal fonte de dados confiáveis sobre a situação em campo.
‘A ONU não é um governo mundial’: o limite imposto pela soberania dos Estados
Analistas de relações internacionais com frequência apontam que a ONU é vista — por vezes de maneira imprecisa — como uma espécie de “super-Estado” com poderes para intervir em qualquer crise global. Tal expectativa, contudo, choca-se com um preceito basal da própria organização: a soberania dos Estados. Paulo Velasco, analista da Uerj, esclarece que esse princípio é o alicerce da Carta das Nações Unidas, a qual estipula que nenhum país deve ser alvo de intervenção externa sem seu devido consentimento. “A organização foi concebida como um ambiente de Estados soberanos, os quais deveriam cooperar em assuntos de interesse mútuo. Quando falta essa consonância e as posições soberanas divergem, torna-se desafiador mobilizar a ONU para uma solução concertada, especialmente no Conselho de Segurança, cujas deliberações têm força obrigatória para os integrantes”, detalha Velasco.
Velasco enfatiza que, desde a sua fundação, a ONU não foi concebida para constranger a soberania estatal, mas para harmonizá-la com objetivos partilhados. “As intervenções humanitárias e o conceito da ‘responsabilidade de proteger’ são exceções, aplicáveis em crises como a da Líbia em 2011, quando a ONU autorizou ações militares para a proteção de civis durante a revolta contra o regime de Muammar Kadhafi, mas nunca em relação a potências globais”. Na visão de Velasco, a percepção da ONU é, em algumas circunstâncias, mal-interpretada. “Não é um super-Estado, tampouco um governo mundial; não se posiciona acima da soberania nacional. Essa indispensável compatibilização com a soberania dos Estados explica boa parte da inércia que observamos nos conflitos contemporâneos.”
O papel da ONU no dia a dia das pessoas

Imagem: bbc.com
A despeito da sensação de paralisia que atinge o Conselho de Segurança e da lentidão percebida em determinados conflitos, a ONU cumpre funções essenciais para o cotidiano dos indivíduos, na avaliação de Paulo Velasco. Ele pondera que a organização foi primariamente criada para atuar na resolução de guerras, mas seu papel se estende fundamentalmente à coordenação de iniciativas em domínios como desenvolvimento, erradicação da pobreza e mitigação das mudanças climáticas. “Antes de categoricamente afirmar que a ONU carece de utilidade, basta observar fatos corriqueiros. Um exemplo simples: em qualquer supermercado ao redor do mundo, uma embalagem de leite em pó exibe a recomendação de que, até os seis meses de vida, o aleitamento materno deve ser priorizado. Esta orientação emana da ONU, aprovada com base em suas resoluções”, exemplifica Velasco.
Ele prossegue, destacando a vastidão do sistema das Nações Unidas, que se estende muito além da Assembleia em Nova York. Inclui agências de alcance global, como a UNESCO, focada em educação, ciência e cultura; a FAO, dedicada à alimentação e agricultura; e o UNICEF, que atua na promoção dos direitos e do bem-estar da infância. Segundo Velasco, mesmo no âmbito da segurança e das disputas internacionais, é imperativo reconhecer as restrições impostas pelos interesses das grandes potências. “A ONU operou invariavelmente dentro dessas limitações. No entanto, ainda assim, proporciona importantes salvaguardas diplomáticas e estabelece marcos que impedem a escalada descontrolada de conflitos”, assevera.
Rafaela Sanches, reforça essa visão, afirmando que a organização também exerce a função de mediadora e coordenadora de esforços internacionais em pautas críticas para a humanidade. “Na ausência da ONU, as ações dos Estados seriam ainda mais limitadas, seja por impedimentos financeiros, tecnológicos ou de coordenação entre si”, argumenta Sanches.
Crise financeira e cortes internacionais
Atualmente, a ONU está sob crescente pressão financeira, ocasionada pela diminuição das contribuições de seus maiores doadores, o que impacta diretamente sua operacionalidade. Para 2025, uma série de nações europeias anunciou reduções em seus repasses. A França, por exemplo, divulgou cortes de 700 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 4,3 bilhões, em sua Ajuda Oficial ao Desenvolvimento (ODA), recursos empregados no financiamento de projetos em áreas vitais como combate à pobreza, saúde, educação e infraestrutura em países em desenvolvimento. O Reino Unido, por sua vez, também ajustou sua ODA para 0,3% do PIB a partir de 2027, enquanto Alemanha, Países Baixos e Bélgica também formalizaram a diminuição de suas colaborações financeiras.
Nos Estados Unidos, os cortes de recursos se revelaram ainda mais drásticos. Nos primeiros meses de 2025, o então presidente Donald Trump, figura que questiona publicamente a eficácia da ONU, promoveu a saída do país de importantes órgãos como o Conselho de Direitos Humanos da ONU e da agência de assistência a refugiados palestinos (UNRWA). Ele também suspendeu centenas de milhões de dólares de financiamento a diversas entidades multilaterais, incluindo o Fundo de População da ONU (UNFPA), e congelou parte significativa da ajuda externa.
Paulo Velasco sublinha os efeitos severos dessas políticas. “Esse quadro configura um problema considerável, pois os Estados Unidos não são um país qualquer; sua participação é vital para o funcionamento dessas organizações. Cortes dessa magnitude afetam diretamente programas essenciais do Programa Mundial de Alimentos (PMA), do UNICEF e do OCHA, órgão da ONU que coordena o envio de assistência humanitária, acarretando na redução de serviços, demissões e atrasos na resposta a crises humanitárias”, avalia o analista. Velasco contextualiza que a postura de Trump se insere em uma narrativa mais ampla de ceticismo ao multilateralismo, recorrente em governos de direita e ultradireita, os quais frequentemente enxergam a ONU e outras instituições internacionais como ameaças à soberania nacional. “Essa visão antiglobalista, por vezes equivocada, associa tais fóruns a uma pauta de esquerda, em função da mobilização de direitos de mulheres, populações indígenas e da comunidade LGBT+. Trump é o grande articulador disso: retirou os EUA do Conselho de Direitos Humanos, da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Acordo de Paris, o que resultou em um notável enfraquecimento do multilateralismo”, pormenoriza Velasco.
O especialista reitera que, apesar da miríade de desafios, a Organização das Nações Unidas prossegue em seu desempenho de funções cruciais. “O multilateralismo não atravessa seu momento de maior pujança, porém a organização ainda provê salvaguardas diplomáticas de grande valor, elabora estruturas para a cooperação e assegura algum grau de coordenação em escala global. Sem a sua presença, o panorama mundial seria indubitavelmente mais volátil”, conclui.
A discussão sobre a vitalidade e os limites da ONU nos seus 80 anos demonstra que a organização permanece um pilar indispensável para a governança global, apesar dos inúmeros desafios estruturais e políticos que enfrenta. Para aprofundar suas reflexões sobre o cenário global e os desdobramentos da política internacional, convidamos você a explorar outras análises em nossa editoria de Política e a continuar acompanhando os temas mais relevantes para o Brasil e o mundo.
Crédito, Getty Images
Recomendo
🔗 Links Úteis
Recursos externos recomendados