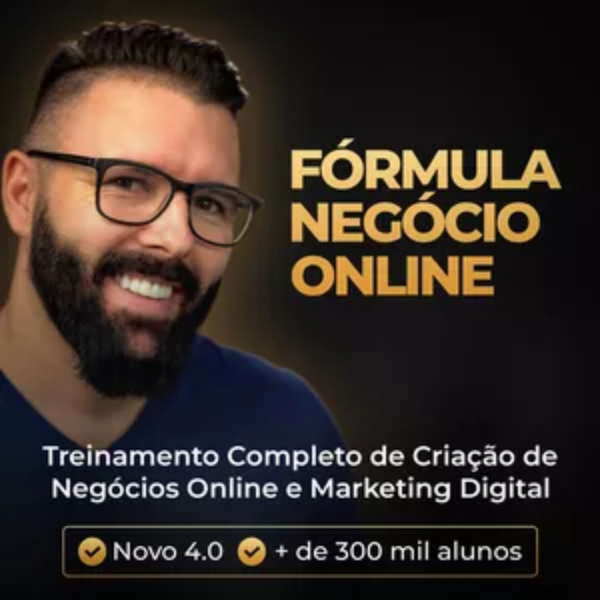📚 Continue Lendo
Mais artigos do nosso blog
A discussão em torno da anistia no Brasil voltou com força ao cenário político, reacendida após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe. Essa pauta, que envolve o perdão de atos e crimes, inclusive aqueles associados a manifestações antidemocráticas de 2022, tem mobilizado o Congresso Nacional e gerado intensos debates sobre a justiça e o papel da anistia na consolidação democrática.
Recentemente, a Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência um projeto que visa conceder perdão a indivíduos condenados por participarem de protestos antidemocráticos. A proposição ainda passará por revisões, e suas implicações para o ex-presidente e seus apoiadores permanecem incertas. A iniciativa ocorre em um contexto de pressão política, com figuras como Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e possível candidato à presidência em 2026, defendendo a anistia a Bolsonaro como uma prioridade em um eventual mandato. Internacionalmente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro tem buscado apoio do governo americano para essa agenda, com críticas já proferidas pelo ex-presidente Donald Trump a autoridades judiciárias brasileiras.
Anistia no Brasil: Histórico e Debates Atuais em Pauta
Embora as discussões atuais ganhem destaque na mídia, o conceito e a prática da anistia possuem uma longa e complexa trajetória no Brasil. Desde os tempos do Império até as ditaduras do século XX, as anistias frequentemente serviram como um instrumento de governabilidade, de acomodação de facções políticas e de “pacificação” social, conforme aponta o historiador Carlos Fico, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Seu estudo revela que, das 15 tentativas de golpe identificadas no Brasil desde 1889, seis resultaram em alguma forma de perdão. Contudo, essa tradição tem sido alvo de crescentes críticas por parte de especialistas, que questionam sua eficácia em curar as “feridas” nacionais e promover a responsabilização.
A percepção de que as anistias brasileiras muitas vezes falharam em promover um diálogo genuíno e uma conciliação duradoura é um ponto crucial das críticas. Especialistas ouvidos pela BBC News Brasil destacam que esses processos, em vez de consolidarem a paz, tendem a eximir responsabilidades e a fomentar o esquecimento, deixando impunes instituições e pessoas que cometeram atos de violência e violações de direitos humanos. Carla Simone Rodeghero, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), explica que cada anistia reflete a correlação de forças políticas daquele momento, com elites frequentemente invocando a “conciliação” para justificar medidas que blindam agentes de abusos.
A Anistia em Outras Nações: Um Contraponto à Experiência Brasileira
A forma como o Brasil abordou a anistia difere significativamente das experiências de outros países, especialmente na América Latina. Enquanto na Argentina, Chile e Uruguai as leis de anistia, embora polêmicas, foram mais pontuais e geralmente relacionadas a transições democráticas, o Brasil teve um processo mais alongado e passível de diversas reinterpretações ao longo das décadas. A Argentina, por exemplo, avançou nos julgamentos dos comandantes da ditadura após a redemocratização em 1985. Leis que limitavam a responsabilização militar foram revogadas e, em 2005, a Suprema Corte declarou sua inconstitucionalidade, resultando na reabertura de centenas de processos e condenações, incluindo a prisão perpétua do general Jorge Rafael Videla.
No Chile, a lei de anistia de 1978, promulgada durante a ditadura de Augusto Pinochet, buscou isentar os responsáveis por abusos. No entanto, o Judiciário chileno reinterpretou crimes como o desaparecimento forçado, considerando-o contínuo até a localização da vítima, o que permitiu julgamentos, e Pinochet foi preso em 1998 sob acusações de genocídio e terrorismo. Na Europa, a França optou por perdões pontuais pós-Segunda Guerra Mundial, e a Espanha implementou a Lei da Anistia de 1977, que perdoou tanto opositores quanto perpetradores do regime de Franco, em um esforço de transição. Já a África do Sul, após o apartheid, criou uma Comissão da Verdade e Reconciliação, condicionando o perdão à confissão dos crimes. Essas abordagens demonstram a diversidade de caminhos que as nações tomaram para lidar com seus passados autoritários.
As Primeiras Anistias do Brasil Imperial e Republicano
No Brasil, uma das mais antigas ocorrências de anistia está ligada à própria Independência. Em 1823, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte e exilou importantes figuras, como José Bonifácio e seus irmãos, os Andradas, em um contexto de debate sobre os limites do poder imperial. Somente por meio de um decreto de anistia em 1825, que buscava “lançar um véu de esquecimento sobre as opiniões passadas”, Bonifácio e outros envolvidos em rebeliões anteriores puderam retornar ao país entre 1828 e 1829. Essa medida, parte de uma estratégia de Dom Pedro I para recompor alianças em um momento de enfraquecimento político, permitiu que Bonifácio mais tarde se tornasse tutor de Dom Pedro II, evidenciando sua reintegração ao poder.
Durante o Império, as anistias eram frequentemente vistas como atos de clemência do soberano, em vez de um reconhecimento de direitos. Segundo os especialistas, os perdões eram seletivos, privilegiando líderes das elites, enquanto as bases sociais dos conflitos raramente eram beneficiadas. Um exemplo notável foi a Guerra dos Farrapos (1835-1845), no Rio Grande do Sul, cujo desfecho incluiu a anistia e a integração dos líderes farroupilhas ao Exército imperial. Na Cabanagem (1835-1840), no Grão-Pará, os membros da elite envolvidos no conflito foram perdoados e se reconciliaram com o Império, reiterando um padrão de pacificação direcionado aos grupos de poder.
A instauração da República em 1889 também utilizou a anistia como ferramenta de estabilização política. Na Primeira República (1889-1930), o Estado alternava entre repressão rigorosa e perdões condicionados. No ano seguinte à Revolta da Vacina, um decreto de 1905 perdoou os envolvidos nos eventos de 14 de novembro de 1904, estendendo o perdão tanto a civis rebelados quanto a agentes do governo que usaram violência. A Revolta da Chibata, em 1910, levou a um decreto de anistia para os marinheiros amotinados em troca da rendição, porém, o acordo foi prontamente quebrado, resultando em prisões, expulsões e mortes, um episódio historicamente lembrado como a “anistia traída”.
Era Vargas e a Anistia de 1945
A Era Vargas, iniciada em 1930, trouxe consigo uma nova série de anistias. Após a Revolução Constitucionalista de 1932, apesar da derrota militar de São Paulo, a anistia de 1934 reintegrou importantes lideranças paulistas, auxiliando na diminuição das tensões políticas e sociais. Essa foi uma medida pragmática, permitindo aos derrotados retornar ao jogo político sob as novas regras do presidente Getúlio Vargas. O Estado Novo (1937-1945) aprofundou sua estrutura repressiva, usando a Constituição autoritária, a Lei de Segurança Nacional e o Tribunal de Segurança Nacional (TSN) para classificar atos de oposição como “crimes políticos”, com processos sumários e decisões de execução imediata, conforme relatos jornalísticos da época.

Imagem: bbc.com
Com o término da Segunda Guerra Mundial e o retorno das Forças Expedicionárias Brasileiras da Itália, a pauta da anistia ganhou intensa mobilização em 1945. Segundo Carla Simone Rodeghero, o clima de união nacional e a iminência de um novo calendário eleitoral favoreceram a ideia de pacificação. Comitês civis, femininos e veículos de imprensa uniram-se na defesa de uma anistia “ampla” como condição para a “pacificação”. Luiz Carlos Prestes, líder comunista, e Armando de Sales Oliveira, liberal, foram destacados como símbolos de reintegração. O escritor Jorge Amado, então membro do Partido Comunista Brasileiro, clamou por uma anistia capaz de superar os antigos ressentimentos e pacificar “toda a família brasileira”. Em abril de 1945, um decreto concedeu perdão a todos os opositores de Vargas, incluindo comunistas e integralistas. No entanto, o texto não previu punição ou investigação para abusos cometidos pelo próprio regime, e a principal mobilização dos opositores era pela libertação dos presos, conforme registrado por Luiz Carlos Prestes.
A Polêmica Lei de Anistia de 1979 e a Constituição de 1988
O tema da anistia retornou com força à agenda política brasileira após a ditadura militar (1964-1985). Nos anos 1970, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e, posteriormente, movimentos sociais como o Movimento Feminino pela Anistia (MFPA) e os Comitês Brasileiros pela Anistia (CBAs) articularam uma demanda nacional por anistia. Inicialmente focada na “reconciliação”, a linguagem dos ativistas evoluiu para a demanda por uma “anistia ampla, geral e irrestrita”, um contraponto à ideia de pacificação que, muitas vezes, era associada ao esquecimento.
Em 1979, o governo ditatorial de João Figueiredo promulgou a Lei de Anistia (Lei nº 6.683/79). Embora tenha permitido a libertação de presos políticos, o retorno de exilados e a reintegração de punidos, a lei continha uma cláusula de perdão para os “crimes conexos” que gerou profunda controvérsia. Essa definição, de “crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política”, foi interpretada como abrangendo os agentes do Estado responsáveis por tortura, execuções e desaparecimentos. Assim, a anistia de 1979 se tornou “bilateral”, perdoando tanto os perseguidos quanto os perpetradores da repressão, uma característica criticada por não permitir a responsabilização e o reconhecimento dos crimes.
Após a redemocratização, a Constituição de 1988 estabeleceu novas regras para a anistia, transferindo a prerrogativa do Executivo para o Legislativo, com a sanção ou veto presidencial. No entanto, mesmo com uma nova Carta Magna, a jurisprudência manteve a interpretação da anistia bilateral. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal (STF), em uma ação movida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), rejeitou o pedido para reinterpretar a Lei de Anistia de 1979 e afastar o perdão para crimes comuns cometidos por agentes do Estado durante a ditadura. A maioria seguiu o voto do ministro relator Eros Grau, que argumentou que a lei foi resultado de um “acordo político” de transição e que o Judiciário contemporâneo não deveria reescrevê-lo. Este modelo de “anistia de impunidade e esquecimento”, segundo Marcelo Torelly, professor da Universidade Católica de Brasília (UCB) e estudioso de justiça de transição, permeia o debate sobre a justiça de transição no Brasil. A discussão sobre punição de crimes da ditadura voltou ao STF após o sucesso do filme “Ainda Estou Aqui”, levando a Corte a aceitar recursos para reabrir o debate sobre a imprescritibilidade da tortura.
A Comissão Nacional da Verdade e os Desafios Atuais
Além do Judiciário, outras esferas buscaram lidar com as feridas do passado. A Comissão Nacional da Verdade (CNV), criada durante o governo de Dilma Rousseff para investigar graves violações de direitos humanos ocorridas entre 1946 e 1988, com foco na última ditadura, enfrentou resistências, mas alcançou marcos importantes. Torelly aponta que a CNV reforçou a responsabilização por violações, promoveu normas internacionais de direitos humanos e confrontou o silêncio militar sobre o passado autoritário, atuando como um “remédio para uma doença social”, fortalecendo o apoio à democracia. No entanto, o debate atual em torno da anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023 é visto por Carla Rodeghero como distinto das anistias históricas. Ela ressalta que não se pode equiparar o perdão de atos punidos por legislações de exceção em ditaduras a delitos praticados sob a normalidade democrática, onde todos os canais institucionais estão abertos. Para o futuro, o professor Torelly propõe a revisão de penas consideradas exageradas para crimes sem violência e a combinação de redução de pena com serviços comunitários e estudos cívicos, para garantir que as pessoas entendam as bases do ordenamento jurídico democrático, em vez de sentirem-se legitimadas a agir fora da lei. O verdadeiro aprendizado do passado reside em não permitir que a impunidade estimule futuras transgressões.
A discussão sobre a anistia no Brasil continua sendo um tema sensível e crucial para a compreensão da nossa história e para a construção de um futuro mais justo e democrático. Para aprofundar seu entendimento sobre questões políticas, confira mais notícias em nossa editoria de Política.
Crédito, Arquivo Nacional
Recomendo
🔗 Links Úteis
Recursos externos recomendados