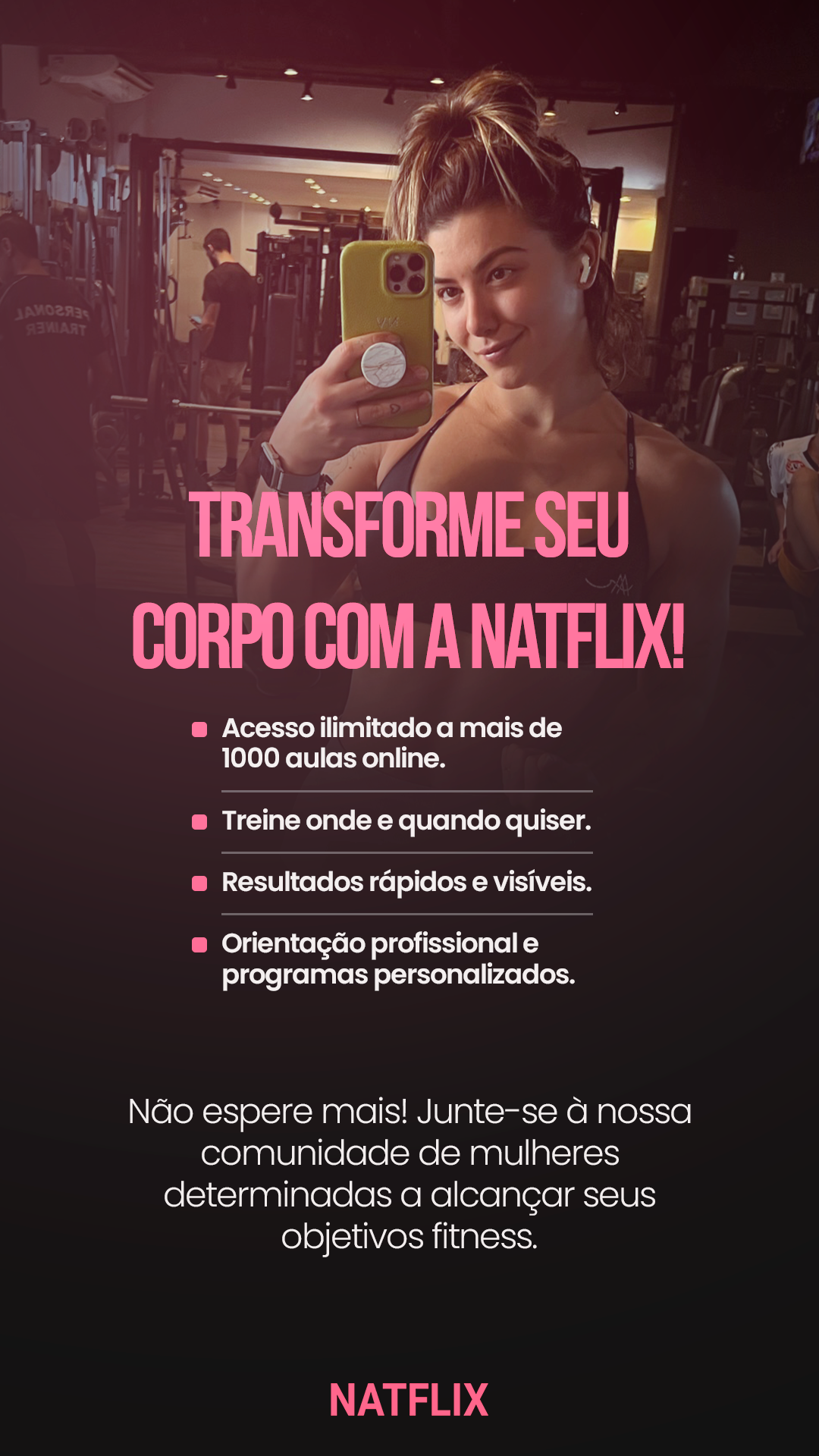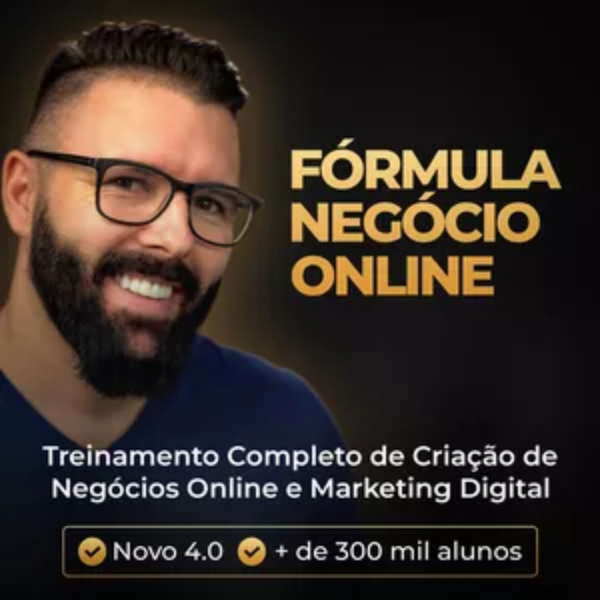📚 Continue Lendo
Mais artigos do nosso blog
A divisão da colônia japonesa no Brasil após a Segunda Guerra Mundial marcou um dos períodos mais conturbados na história da imigração nipônica no país. Com a oficialização da derrota japonesa em setembro de 1945, uma intensa polarização emergiu, dividindo a comunidade em dois grupos antagônicos: os “kachigumi”, que se recusavam a aceitar a rendição do Japão, e os “makegumi”, que reconheciam a vitória Aliada. Essa clivagem profunda desencadeou tensões, conflitos e atos de violência, revelando a complexidade do apego à pátria-mãe e os desafios de adaptação em terras estrangeiras.
O cenário que precipitou essa fissura globalmente ocorreu na Baía de Tóquio, em 2 de setembro de 1945. Naquele dia fatídico, o ministro das Relações Exteriores do Japão, Mamoru Shigemitsu, subia o convés do encouraçado norte-americano Missouri. O dignatário, visivelmente abatido e portando uma prótese em sua perna direita — resultado de um atentado anos antes — enfrentava uma marcha dolorosa. Em frente ao General Douglas MacArthur, supremo comandante das Forças Aliadas, Shigemitsu se curvou para assinar a ata que selava a rendição incondicional de sua nação, sem que lhe fosse oferecida uma cadeira. A solenidade, adornada com a bandeira americana da esquadra que forçou a abertura do Japão no século XIX, culminou com a recusa de MacArthur em cumprimentar o diplomata japonês, sublinhando a humilhação do momento. Tal acontecimento, impensável para a cultura nipônica da época, tornaria a negação da derrota algo palpável para muitos expatriados.
Divisão da Colônia Japonesa no Brasil após 2ª Guerra
Dez meses após este ato histórico, os ecos do conflito mundial ainda ressoavam fortemente na comunidade japonesa brasileira. Em 19 de julho de 1946, o Palácio dos Campos Elíseos, em São Paulo, tornou-se palco de um encontro revelador. O interventor federal José Carlos de Macedo Soares e o embaixador da Suécia, Ragnar Kumlin, discorriam para mais de 600 migrantes japoneses e seus descendentes sobre a rendição do Japão. Apesar das tentativas de comunicar a realidade da derrota, o que se presenciou foi uma persistente descrença por parte de grande parte dos presentes, uma amostra da já mencionada divisão que caracterizava a colônia japonesa no Brasil pós-guerra, refletindo a negação do ‘kachigumi’ em contraponto à aceitação do ‘makegumi’, minoria marginalizada. Dentro deste cenário, emergiam sociedades secretas, como a notória Shindo Renmei, que empregavam táticas de intimidação e assassinatos contra aqueles que reconheciam o resultado do conflito.
Na reunião no Palácio dos Campos Elíseos, o embaixador sueco chegou a classificar como “notícias fantásticas” a convicção na vitória japonesa. Já o interventor federal José Carlos de Macedo Soares foi incisivo ao acusar membros da colônia de promoverem “atos de terrorismo”. Ao final da explanação, quando convidados a assinar uma ata que corroborasse a rendição japonesa, um homem calvo declarou sua recusa, afirmando não crer na derrota do Japão. Sua posição foi seguida por Sachiko, a única mulher japonesa presente, que corroborou a incredulidade geral e desafiou o interventor a “comunicar a vitória do Japão” para pôr fim às disputas e ao terrorismo dentro da comunidade. Este episódio evidenciou a intransigência e o forte senso de honra de parcela da colônia, que rejeitava categoricamente qualquer insinuação de fraqueza de sua nação de origem.
A reação da imprensa paulista à reunião nos Campos Elíseos foi imediata e severa. Diários como “A Gazeta” consideraram o ocorrido como uma “afronta à nação”, reprovando a conduta do interventor Macedo Soares. A “Tribuna Popular”, órgão do Partido Comunista Brasileiro (PCB), foi ainda mais contundente, rotulando o acontecimento como uma “afronta à nação” e criticando a suposta condescendência de Macedo Soares com os “fascistas japoneses”. O jornal comunista reforçou a imagem da rendição de Shigemitsu na proa do Missouri, buscando contrapor o que chamavam de ignorância da Shindo Renmei e do interventor frente aos fatos inquestionáveis da capitulação nipônica.
Desde o início do século XX, o Brasil havia recebido cerca de meio milhão de migrantes japoneses, cuja chegada era frequentemente precedida de preconceitos enraizados na mentalidade do “Perigo Amarelo”, termo cunhado no século XIX para justificar o veto à imigração asiática. Esses imigrantes, movidos pela busca de prosperidade e pelo desejo de retorno à pátria, mantinham laços profundos com sua terra natal e, em muitos casos, escassos com o país que os acolhia. O então presidente da Academia Nacional de Medicina, Miguel Couto, expressava essa visão eugenista ao afirmar que “os asiáticos nunca se aculturam”, defendendo o impedimento da entrada de “moléculas perniciosas” conforme princípios de eugenia e economia, ressaltando o ambiente hostil que muitos imigrantes enfrentavam ao desembarcar.
Na década de 1930, em consonância com tendências globais, o Brasil implementou uma campanha de nacionalização, que se institucionalizou sob a ditadura do Estado Novo. Essa política oficial, segundo Gustavo Taniguti, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo (USP), impôs severas restrições, começando com as primeiras medidas do presidente Getúlio Vargas em 1934. Sob o Estado Novo, proibiu-se não apenas o uso de idiomas estrangeiros, mas também de línguas indígenas, autorizando exclusivamente o português. Esta “nacionalização” linguística e cultural visava assimilar os grupos minoritários, porém resultou em um cerceamento drástico das expressões culturais e da liberdade comunitária de populações como a japonesa.
As comunidades nipônicas foram significativamente impactadas pela ilegalização de jornais, rádios e escolas em língua estrangeira já no final dos anos 1930, como apontou Taniguti. Quando o Brasil declarou guerra ao Eixo em 1942, o sentimento antinipônico na população intensificou-se drasticamente. O ápice dessa repressão veio em 1943, com a expropriação e evacuação de toda a população de origem japonesa de Santos, no litoral paulista, sob a alegação de ser uma zona de guerra. Aproximadamente 1.500 indivíduos, incluindo homens, mulheres e crianças, foram compulsoriamente deslocados para “campos de concentração” no interior. A historiadora Priscila Perazzo, doutora em História pela USP e professora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), enfatiza que a criação desses campos não foi uma iniciativa isolada brasileira, mas resultado da pressão explícita dos Estados Unidos, que já adotavam medidas semelhantes em seu território. Perazzo, citando Hannah Arendt, distingue esses campos como “limbos”, uma categoria intermediária antes do “purgatório” (campos de trabalho) e do “inferno” (solução final nazista), demonstrando a seriedade do internamento de civis como política de Estado.
A hostilidade se manifestou também através da propaganda oficial, a exemplo do programa radiofônico “Este é o nosso inimigo”, produzido pelo Estado Novo em 1943. Este material apresentava os japoneses sob uma ótica difamatória, com atores recitando declarações atribuídas a porta-vozes do Império Japonês, como: “Chegará o dia em que faremos do universo inteiro o nosso domínio. Chamaremos o nosso poder aos quatro pontos cardeais e cobriremos os oito cantos do mundo com um único teto.” Em seguida, o locutor ironizava: “Não, isto não é um trecho de um conto de fadas ou parte de uma página cômica de jornal. Os japoneses de que falamos no programa de hoje existem. E não há nada de cômico a respeito deles.” Tal discurso, em meio à repressão, isolamento e ausência de contato com o Japão, conforme sustentado por Taniguti, acabou por pavimentar o caminho para manifestações de extremismo entre grupos de migrantes, alterando a percepção dos japoneses de meros suspeitos de espionagem para a pecha de fanáticos e terroristas no pós-1945.

Imagem: bbc.com
O episódio de Tupã, interior paulista, em 1º de janeiro de 1946, foi o catalisador de uma nova fase da onda antinipônica. A Força Pública, ao investigar uma denúncia sobre um suposto culto à bandeira japonesa em uma chácara, deteve e maltratou sete migrantes, que confessaram sua descrença na rendição do Japão. Este incidente deflagrou o maior inquérito político e criminal do país contra a Shindo Renmei, resultando na prisão de cerca de 2.000 pessoas, indiciamento de 30 integrantes da colônia, tentativas de expulsão de 80 indivíduos e o envio de 180 para o Instituto Correcional da Ilha de Anchieta. O escândalo se alinhou com o auge do sentimento antijaponês no Brasil, que repercutiria intensamente no âmbito político.
Na Assembleia Constituinte de 1946, poucos mais de um mês após os eventos nos Campos Elíseos, foi submetida a votação uma emenda constitucional que propunha o veto explícito ao ingresso de japoneses no Brasil. A proposta, impulsionada por eugenistas agrupados em torno do deputado Miguel Couto Filho, obteve amplo apoio, inclusive da bancada do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Contudo, a votação terminou empatada, com 99 votos favoráveis e 99 contrários. A decisão final recaiu sobre o presidente da assembleia, o mineiro Fernando Melo Viana, cujo “voto de Minerva” foi contrário à emenda, evitando assim a formalização da proibição de novos imigrantes japoneses no território brasileiro.
Com o fim da guerra, a fixação dos migrantes japoneses em solo brasileiro, que já parecia incerta, foi irreversivelmente confirmada pela devastação do Japão. Esse cenário desfez o sonho acalentado por anos de retorno à pátria. Kelly Yshida, doutora em História pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), argumenta que o forte nacionalismo e a lealdade ao império ajudam a compreender a resistência dos imigrantes em aceitar a derrota japonesa. A impossibilidade de retornar para casa gerou traumas significativos e intensificou a necessidade de adaptação, confrontando o desejo de parte desses migrantes de manter vivas suas origens e seu projeto inicial de um dia regressar.
Essa dificuldade de aceitação e adaptação se manifestou novamente anos mais tarde com o surgimento do “Pelotão de Voluntários das Cerejeiras” (Sakuragumi Teishintai), um grupo paramilitar autodenominado fundado em 1953, em Londrina, Paraná. Esse grupo prometia repatriação — o retorno imediato ao Japão — em troca de dinheiro e bens dos integrantes. Gustavo Taniguti explica que o Pelotão propunha um caminho inusitado: alistar-se voluntariamente para lutar ao lado das forças dos Estados Unidos e da Organização das Nações Unidas (ONU) na Guerra da Coreia (1950-1953). Após a desmobilização, os combatentes seguiriam para o Japão, que havia sido desocupado pelos Aliados em 1952. Em janeiro de 1954, o grupo chegou a instalar centenas de migrantes em uma chácara em Santo André, São Paulo, estratégia de proximidade com o porto de Santos na expectativa de embarque. A Força Pública paulista interveio com duas invasões, em janeiro e dezembro de 1954, resultando em agressões aos residentes e na prisão de 23 líderes na última incursão.
Nos veículos de comunicação da época, a chácara de Santo André foi jocosamente comparada a “Canudos em miniatura”, e o debate público questionava se seus ocupantes eram “comunistas, vigaristas ou remanescentes da Shindo Renmei”. O episódio culminou em 1955 com a prisão de líderes envolvidos em atos de depredação contra o consulado japonês em São Paulo e a subsequente dispersão do grupo. Paralelamente, o restabelecimento das relações diplomáticas entre Japão e Brasil, em 1952, tornou a existência e as ações de grupos como o “Pelotão dos Voluntários das Cerejeiras” constrangedoras para ambos os governos e para a representação oficial da comunidade japonesa. A historiografia, ao revisitar esses episódios, contextualiza-os no embate de nacionalismos, tanto japonês quanto brasileiro. Para entender melhor os aspectos históricos da imigração, consulte informações confiáveis como as do Museu da Imigração do Estado de São Paulo.
Embora os conflitos mais evidentes tivessem diminuído, o choque cultural e as tensões subjacentes permaneceram por muitos anos. Durante a ditadura militar pós-1964, por exemplo, ao menos dois parlamentares de ascendência japonesa — o deputado federal Yukishige Tamura (Arena, situacionista) e o estadual Paulo Nakandakare (MDB, oposicionista), ambos eleitos por São Paulo — tiveram seus mandatos cassados sob suspeita, entre outras acusações, de terem vínculos com a Shindo Renmei. Até o presente século XXI, o preconceito antinipônico e anti-asiático ainda se manifesta, como evidenciado pela narrativa de hostilidade dirigida aos chineses durante a pandemia do novo coronavírus. A pesquisadora Kelly Yshida salienta a complexidade de novas discussões, como o questionamento do estereótipo do “japonês como minoria modelo”, que, apesar de diferir do “Perigo Amarelo” do século passado, é problemático por perpetuar uma hierarquia entre diferentes populações e culturas.
Este aprofundado mergulho na história da colônia japonesa no Brasil após a 2ª Guerra Mundial revela não apenas as cicatrizes de um período de grande tensão, mas também a resiliência e a complexidade de uma comunidade diante da perda da pátria e da necessidade de redefinir sua identidade. Os episódios de negacionismo, repressão e as subsequentes adaptações são um lembrete vívido da forma como grandes eventos globais podem remodelar vidas locais. Continue explorando a rica tapeçaria histórica do Brasil e seus diversos povos em nossa editoria de Análises.
Crédito: Getty Images
Recomendo
🔗 Links Úteis
Recursos externos recomendados