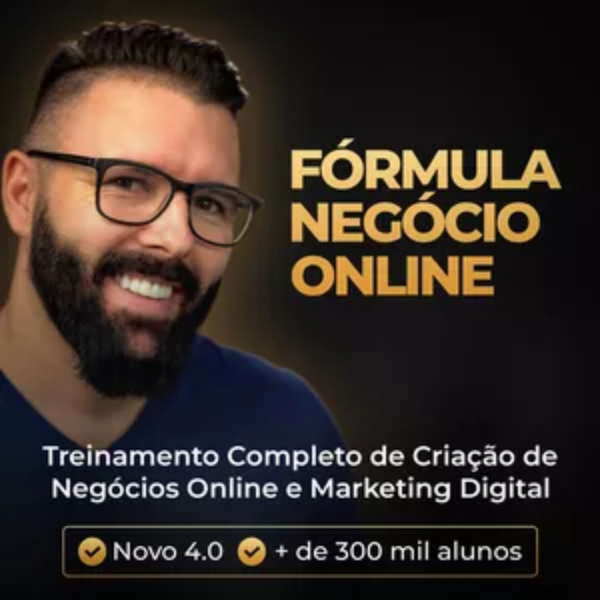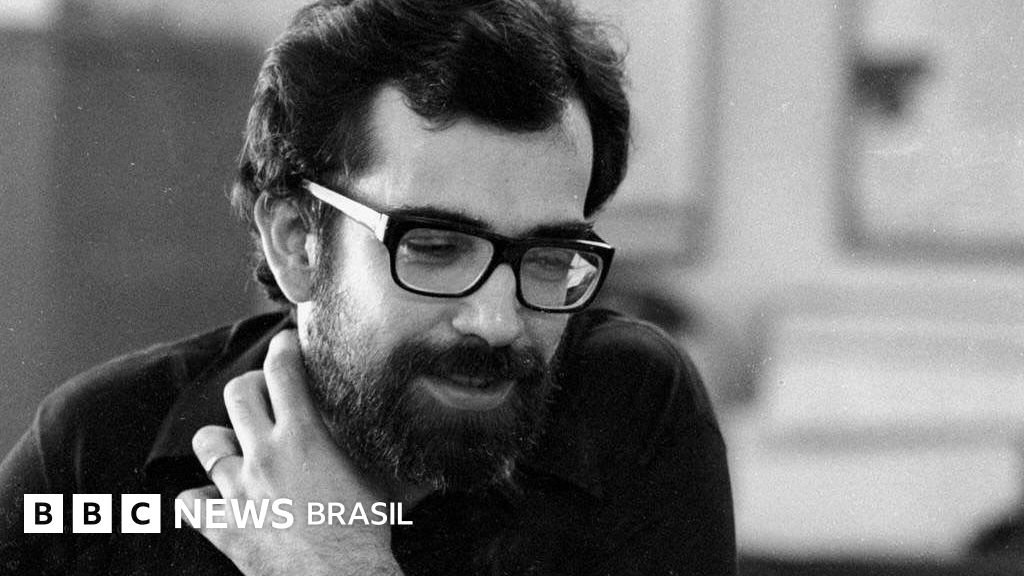📚 Continue Lendo
Mais artigos do nosso blog
Em 1835, a cidade de Salvador, na Bahia, outrora a proeminente capital do Brasil Colônia e então um relevante centro econômico do recém-independente país, tornou-se palco para a **Revolta dos Malês**, o maior levante de escravizados na história brasileira. Naquele período, Salvador abrigava uma população de 65 mil pessoas, das quais cerca de 40% eram escravizadas. A complexidade do regime escravocrata se acentuava ao constatar que, desse grupo, 63% haviam nascido no continente africano, uma demonstração clara da intensidade contínua do tráfico negreiro, conforme documentado pelo historiador João José Reis em sua obra “Rebelião Escrava no Brasil – A História do Levante dos Malês (1835)”.
Os dados detalhados por Reis, que é professor na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e uma das maiores autoridades mundiais em estudos sobre escravidão negra, são cruciais para entender o cenário social e a efervescência que culminaram na noite de 24 de janeiro de 1835, data da insurgência. Essa conjuntura social de uma vasta população de origem africana, muitos com sua cultura e religião ainda fortes, gerou um solo fértil para a eclosão de movimentos de resistência contra o sistema opressor.
Revolta dos Malês: maior levante escravo na Bahia de 1835
A historiadora Luciana Brito, também professora na UFBA e autora do livro “O Avesso da Raça”, explica que a Revolta dos Malês, embora interceptada antes de sua concretização plena, conseguiu instigar um grande tumulto em Salvador. O evento abalou profundamente a percepção das autoridades – sejam elas senhoriais, provinciais ou imperiais – de que detinham um controle absoluto sobre a população escravizada. Para Brito, a rebelião não só impactou a “estrutura das autoridades locais” mas desfez a ilusão de “controle quase que total sobre as revoltas”, evidenciando a fragilidade da ordem escravocrata perante a força organizada da resistência.
Do ponto de vista militar e político, a Revolta dos Malês não alcançou seus objetivos imediatos, pois foi rapidamente contida pelas forças de segurança da época, não conseguindo nem tomar a cidade, nem abolir a escravidão. No entanto, o seu legado transcendeu a derrota em campo de batalha. O advogado Flávio de Leão Barros Pereira, professor de Direitos Humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie, observa que o impacto da insurreição foi “profundo na visibilidade, na repercussão do problema da escravidão”, e resultou num endurecimento das políticas de controle social sobre os africanos e, mais notavelmente, numa crescente opressão sobre suas práticas religiosas islâmicas. A historiografia aponta que cerca de 73 participantes foram mortos e mais de 500 foram presos, de um total estimado de 600 insurgentes, confirmando a anulação do levante. O movimento contou com a participação tanto de escravizados quanto de libertos.
Embora o número exato de revoltas de escravizados no Brasil seja de difícil precisão – com estudos contemporâneos sugerindo cerca de 45 incidentes –, o pesquisador e jornalista Guilherme Soares Dias, fundador do Guia Negro, especula que esse número pode ser bem maior, indicando cerca de 30 levantes somente na Bahia naquela década. Ele salienta que a Revolta dos Malês é unanimemente reconhecida como a maior entre elas. Essa visão é corroborada por Petrônio Domingues, professor da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e coautor de “Diásporas Imaginadas: Atlântico Negro e Histórias Afro-brasileiras”, que reitera o consenso sobre sua magnitude. A documentação precária reflete os esforços das autoridades coloniais e imperiais para suprimir tais notícias, evitando a proliferação de revoltas em outras regiões.
Um elemento fundamental da Revolta dos Malês foi sua inegável base religiosa islâmica. João José Reis destaca a centralidade dos muçulmanos no evento, notando que os rebeldes vestiam roupas típicas dos adeptos do Islã na Bahia e portavam amuletos muçulmanos e passagens do Alcorão. A própria etimologia da palavra “malê”, derivado do iorubá, significa “muçulmano”. Guilherme Soares Dias sublinha que esses africanos islâmicos trazidos a Salvador possuíam, em sua maioria, habilidades de leitura e escrita e um histórico de resistência, muitos ocupando posições de relevo em seus países de origem, tornando a condição de escravizado ainda mais “ultrajante” para eles. Maria Helena Pereira Toledo Machado, professora da USP e autora de “O Plano e O Pânico: Os Movimentos Sociais na Década da Abolição”, contextualiza a Revolta dos Malês como a única grande revolta de escravizados urbanos nas Américas comandada por islamizados.
Contudo, Machado ressalta que o movimento não deve ser interpretado como uma *jihad* (guerra santa) no sentido tradicional. Em vez disso, a religião islâmica funcionou como um potente elemento de coesão e união comunitária para esses africanos. “O islã foi o cimento unificador dos revoltosos”, afirma Luciana Brito, explicando a importância dessa religião na articulação de uma estratégia política contra a escravidão, preservando códigos, mística e sinais desconhecidos pelo sistema escravista brasileiro. A insurreição também tinha fortes laços com a luta por liberdade e contra o endurecimento do controle sobre as práticas religiosas dos malês, incluindo repressões evidentes, conforme menciona Barros Pereira.
O estopim para a revolta foi a detenção de Pacífico Licutan (falecido em 1835), conhecido como Bilal em referência ao profeta muçulmano Bilal Ibne Rabá. Licutan, um enrolador de tabaco escravizado em Salvador, era uma figura religiosa islâmica proeminente nas comunidades nagô e hauçá da cidade. Várias tentativas de seus companheiros para comprar sua alforria haviam sido infrutíferas. Após a morte de seu proprietário, um médico, em 1834, Licutan foi apreendido pelas autoridades para ser vendido e quitar as dívidas do falecido. Durante o Ramadã, o mês sagrado islâmico, essa situação gerou intensa indignação entre os seguidores da fé, que então arquitetaram um levante para libertar o líder religioso. O plano inicial era iniciar a rebelião em 25 de janeiro, um domingo pela manhã, um momento estratégico para aproveitar o esvaziamento do centro de Salvador durante a missa na Igreja do Nosso Senhor do Bonfim. Além disso, o horário permitiria que os escravizados se reunissem sob o pretexto de buscar água nas fontes públicas. A ideia era provocar incêndios em vários pontos da cidade para desviar a atenção policial e então resgatar Licutan, mantido na Câmara.
A conspiração, contudo, começou a falhar na véspera da data planejada. Uma denúncia anônima chegou à prefeitura de Salvador, acionando o chefe de polícia, que prontamente ordenou patrulhas e prisões de suspeitos em toda a cidade. A historiadora Luciana Brito, especialista na figura, identifica a denunciante como Sabina da Cruz (falecida em 1875), uma africana liberta de origem nagô. Seu principal objetivo era evitar a participação do marido no levante, ciente das baixas chances de sucesso diante da ausência de registros de revoltas escravas vitoriosas daquele porte. Adicionalmente, conforme Petrônio Domingues, a desvantagem bélica dos malês, munidos de armas mais rudimentares, agravava sua posição. Pressionado pela ação das autoridades, um grupo de aproximadamente 60 homens precipitou o levante. Eles confrontaram policiais e tentaram avançar em direção ao prédio da Câmara, mas foram contidos. Diversos focos de batalha se espalharam por Salvador, mas a intensa repressão policial conseguiu dispersar e subjugar os rebeldes em menos de 24 horas, resultando em mortes e detenções. O livro de Reis registra 16 condenações à morte, embora apenas quatro tenham sido de fato executadas por fuzilamento em 14 de maio de 1835 no Campo da Pólvora. A grande maioria dos detidos foi condenada a penas de açoitamento, variando de 300 a 1.200 chibatadas. Apesar da derrota, o pesquisador Guilherme Soares Dias ressalta que “a revolta não atingiu seu objetivo mas deixou seu legado: um legado de organização de luta, de sonhos pela liberdade”.
Entre os especialistas, existe um debate sobre os objetivos mais ambiciosos da Revolta dos Malês. Alguns acreditam que, além de libertar seu líder religioso e confrontar o sistema escravista, os insurgentes almejavam derrubar o governo de Salvador para instaurar uma administração malê. Luciana Brito aponta que foi inovador o fato de a revolta ter sido planejada e organizada por libertos muçulmanos, utilizando uma cultura religiosa alheia e desconhecida para o Brasil escravista como estratégia política. A confrontação era entendida como uma “guerra dos ‘da terra de negro’ contra os ‘da terra de branco'”, com intenções, em última instância, de eliminar ou subjugar todos que não fossem parte da causa malê. Petrônio Domingues enfatiza que a opressão do sistema escravista e a intolerância religiosa foram as causas principais, buscando a liberdade e a erradicação do regime. Brito também destaca a participação ativa das mulheres, apesar de secundariamente registradas na documentação. Elas foram cruciais na organização, hospedando reuniões, guardando armas e escritos em árabe, e participando das decisões.
A organização comunitária dos africanos e afro-brasileiros em Salvador já existia antes da Revolta dos Malês, um fator decisivo para o planejamento do levante. Flávio de Leão Barros Pereira aponta a “capacidade organizacional marcante”, evidenciada pela alfabetização de muitos e pela comunicação por meio de bilhetes em árabe, orações e reuniões, formando uma rede social robusta. Domingues reforça a existência de um planejamento cuidadoso, incluindo reuniões e a arrecadação de fundos para adquirir armamentos. Guilherme Soares Dias cita a Sociedade Protetora dos Desvalidos, uma caixa de auxílio mútuo fundada em 1827 por malês. Essa entidade operava com uma fachada católica no Pelourinho, possuindo até um altar católico que escondia símbolos de religiões afro-brasileiras e islâmicas, servindo como refúgio e local para reuniões secretas e armazenamento de livros e escritas. Essa estratégia demonstra a perspicácia e a adaptabilidade da comunidade em resistir sob o radar do controle colonial. A compreensão da dimensão da escravidão no Brasil, incluindo suas resistências e insurreições, pode ser aprofundada com fontes como as disponibilizadas pela Fundação Oswaldo Cruz, que discute o tema da escravidão negra e suas formas de luta: A escravidão negra e a luta por resistência no Brasil.
Confira também: crédito imobiliário
O resgate desses episódios históricos é crucial para redefinir a narrativa da abolição, afastando a ideia de que a liberdade foi meramente outorgada aos negros. Como Luciana Brito enfatiza, a abolição foi um “processo longo, fruto de revoltas e outras formas de resistência”. O levante dos malês, em particular, evidencia esses indivíduos como “sujeitos políticos, com ideias de liberdade, projetos de vida”, inclusive destacando a diversidade de pensamento, exemplificada pela atitude de Sabina. Guilherme Soares Dias complementa que “é fundamental conhecer a história das revoltas [dos escravizados] para entendermos que não foi como aprendemos na escola, que as pessoas negras não aceitavam a escravização de forma pacífica. Sempre lutaram para acabar com ela”. Para se aprofundar ainda mais nos eventos que moldaram o nosso país, convidamos você a explorar outros artigos em nossa seção de Política.
Crédito da imagem, Domínio Público

Imagem: bbc.com
Recomendo
🔗 Links Úteis
Recursos externos recomendados